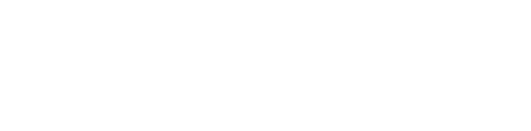Gosto da imagem do leitor borgeano que abre inúmeros livros de uma biblioteca e passa horas pulando de um texto para outro. Me senti mais ou menos como essa figura que vive de fragmentos quando, no fim de semana, desfiz o lacre de um envelope pardo enviado por minha orientadora. Lá dentro, um punhado de páginas de jornais e de revistas, recortes oriundos principalmente da primeira década de 2000. A maioria contém ensaios e resenhas sobre Rubem Fonseca, cuja morte está prestes a completar um ano.
Rubem Fonseca escreveu muito. Os hábitos que manteve até o fim da vida talvez expliquem sua fome criativa. Por ocasião do aniversário de oitenta anos do escritor, numa reportagem publicada na Folha de S. Paulo em 7 de maio de 2004, Luiz Fernando Vianna relata que Fonseca passava seus dias lendo, vendo filmes e digitando palavras, literárias ou não, no computador. Porém, apesar de ser um militante da informática, o episódio especial lançado na semana passada pelo podcast 451 Mhz revela que ele também anotava à mão. De acordo com Bia Corrêa do Lago, filha do contista, foram encontradas caixas abarrotadas de rascunhos no apartamento do pai, material que será organizado e doado a algum centro de pesquisa.
O fato é que no meio daqueles papéis remetidos por minha professora encontrei outras preciosidades que, de alguma maneira, estão conectadas à literatura fonsequiana. São textos sobre a forma do conto e do romance policial, artigos que têm como centro a obra de escritores como Adolfo Bioy Casares e Rodolfo Walsh. Infiltrado nessa profusão de temas, estava um diálogo entre Ricardo Piglia e Roberto Bolaño, impresso em 12 de setembro de 2004 no falecido caderno “Mais” da Folha de S. Paulo. As correspondências trocadas por e-mail entre o argentino e o chileno têm como pautas a infinita influência de Borges, a tradução literária como ponte entre dois mundos e a dificuldade em definir uma identidade latino-americana. A publicação original do bate-papo havia sido realizada em 2001 pelo El País. Na época em que o diário brasileiro o publicou (com tradução de Sergio Molina), era recente o falecimento de Bolaño.
Ao lado de Fonseca, Piglia e Bolaño estão na minha biblioteca de referências. Não posso dizer que li tudo de ambos, mas o que consumi foi suficiente para determinar o modo como compreendo literatura. O Piglia ensaísta (Formas breves, O último leitor, Anos de formação: os diários de Emilio Renzi) me inspira a mergulhar nas engrenagens que movimentam uma história, a tentar compreender o uso de cada parafuso que sustenta o motor narrativo. Já os narradores inquietos e selvagens de Bolaño (A literatura nazista na América, Estrela distante, Putas assassinas) me fazem pensá-los como fotógrafos que congelam algo além do que se vê, detalhe que exige olhos apurados. Ao contrário de Fonseca (com quem me deparei aos dezessete), Piglia e Bolaño são paixões recentes, artistas que descobri há coisa de cinco ou seis anos. Por conta da data estampada naquele caderno de cultura, tomei ainda mais noção do quão recente é minha entrada nos seus respectivos universos.
O que eu fazia em setembro de 2004? Cinco meses antes, tinha somado dezoito primaveras, tempo em que me dedicava mais à leitura de best sellers e de histórias em quadrinhos. Tento vasculhar minha memória, mas não consigo me lembrar se estava lendo algo marcante (talvez algum Dan Brown, Markus Zusak ou Khaled Hosseini). O que lembro com clareza é que completava meu primeiro ano como funcionário da extinta Vetuche Implementos e Máquinas Agrícolas, pequena metalúrgica localizada em Matão, emprego conseguido graças a um diploma do Senai que me qualificava para atuar em qualquer empresa de um ramo abundante no interior de São Paulo. Apesar de ser registrado como torneiro, não era profissional como o velho Ênio, aposentado workaholic que trabalhava próximo de mim num torno clássico, desses que exigem força, coordenação e habilidade do operador. Por mais de três décadas, Ênio fez carreira como operário das maiores empresas matonenses (Marchesan, Baldan, Bambozzi). Ainda trabalhava porque queria manter a cabeça ocupada e complementar a aposentadoria.
A máquina que funcionava sob minha responsabilidade era semiautomática. Para cada modelo de peça, eu tinha que regular a cadência de um enorme eixo central, sem a ajuda de qualquer software. A envergadura dos movimentos era definida por uma manivela e por ferramentas de corte afiadas no esmeril, cujos gumes eram modelados conforme o tipo de material a ser usinado e tendo em vista a forma que o produto deveria ter. Grande parte dos amigos com quem eu estudara no Senai já operava maquinários cibernéticos, que seguiam as coordenadas impostas por Controle Numérico Computadorizado. Segundo relatos desses ex-colegas, eles só precisavam colocar o pedaço de metal bruto na placa de fixação e acionar o dispositivo. Minutos depois, estava pronto algum cilindro de superfície polida e adornada por roscas sem fim, destinado a compor o mecanismo de alguma colheitadeira ou semeadora.
Precisei desbastar muito aço para chegar até Piglia e Bolaño. A vida não é uma linha reta que nos leva ao ponto final. Ela é um jardim repleto de veredas que se bifurcam, labirinto semelhante a recortes de jornal coletados em diferentes épocas.