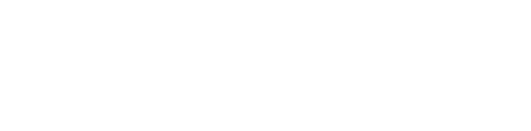Nada de computares.
As bússolas de Manoel de Barros eram velhos dicionários com páginas desbeiçadas pelo manuseio.
Ele não buscava verbetes em nuvens virtuais e preferia arrancá-los de antigas enciclopédias.
O poeta mato-grossense aponta um lápis nas primeiras cenas do documentário Só dez por cento é mentira.
Manteve-se fiel a essa ferramenta até o fim da vida.
Manoel sabia o quão voláteis são as palavras em uma tela eletrônica e que frases digitadas nascem desprovidas de identidade.
A escrita manual está no centro de A carta roubada, uma das principais histórias de detetive de todos os tempos.
O autor da missiva é chantageado pelo ladrão, que ameaça revelar o que nela está estampado.
C. A. Dupin desvenda os pormenores que envolvem o crime cometido.
Alguém dirá que o mais importante nessa narrativa é a solução do enigma.
É o que estava escrito naquela epístola que me intriga.
Não falo do significado, mas da aerodinâmica das letras manuscritas.
Ponderamos sobre uma época em que havia grande cuidado na feitura de documentos.
A pena era vagarosamente mergulhada em um recipiente de tinta escura.
O escriba desenhava os verbetes na superfície cartonada, lacrando o envelope a quente, depois de dobrar a página.
No conto de Edgar Allan Poe, os motivos que afligiam a vítima talvez não fossem somente relacionados ao segredo contido na carta.
O que fazia aquele homem se revirar na cama era a lembrança do trabalho que tivera para, à luz de um toco de vela, compor cada linha do texto.
As palavras daquele pequeno reino lhe pertenciam.
Elas eram parte de sua identidade.
Ele as queria de volta.
Dupin recuperou o documento e teve a recompensa.
Acomodando-se satisfeito numa poltrona, acendeu o cachimbo, as janelas da biblioteca fechadas.
Ao contrário de Manoel de Barros, nunca soube o verdadeiro motivo pelo qual o dono da carta roubada chorou ao recebê-la novamente.