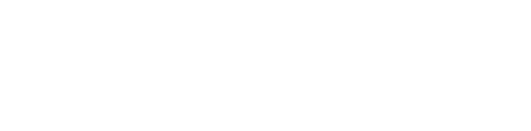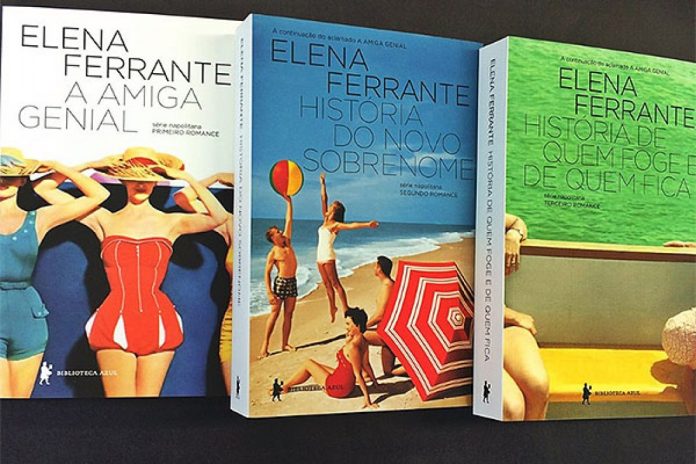No conto "Os contistas", Moacyr Scliar apresenta certa personagem que descreve uma foto na qual um homem palestra para outros que, sentados no chão, ouvem-no atentamente, todos eles possíveis integrantes de uma tribo africana.
Em entrevista concedida à bancada do programa Roda Viva, o moçambicano Mia Couto afirma que, no seu país, há um ditado: quando um velho morre, uma biblioteca arde. Talvez a situação descrita na narrativa de Scliar seja um exemplo concreto desse ser humano carregado de histórias.
Na correria do cotidiano, corre-se o risco de esbarrar em alguma história que nos torne irresponsáveis. A pretexto de avançar alguns capítulos, tarefas urgentes são adiadas. É difícil precisar o momento em que somos fisgados pelo fio de uma narrativa. Ainda mais hoje em dia, com a possibilidade de ler em suportes digitais. Podemos decifrar algumas páginas – ou, falando de um modo mais adequado ao atual zeitgeist, aumentar alguns números na porcentagem de leitura – e, se não gostamos do que lemos, colocamos o título de lado e partimos para outro.
Elena Ferrante me fisgou desde as primeiras linhas. Talvez essa entidade narrativa carregada de mistério (pseudônimo atribuído a Anita Raja, conforme reportagem recente publicada na revista The New Yorker), uma escritora mais sem rosto do que Thomas Pynchon, já estivesse exercendo grande influência na minha decisão de embarcar na Série Napolitana. Elena/Lenu Greco, a narradora de Ferrante, convida-nos a acompanhar sua trajetória por mais de mil e quinhentas páginas divididas em quatro livros. Um desafio óbvio numa época de séries que são maratonadas em menos de vinte e quatro horas.
Em meio a tantas datas criadas não sei quando, por quem ou por quê, pululou no Twitter, domingo último, a hashtag do dia do leitor. Tentei me lembrar do momento em que tive a certeza de que seria alguém que fizesse questão de estar sempre lendo algo. Lembrei que, antes de ser leitor, fui ouvinte.
Quando criança, invariavelmente exigia que minha avó ou minha mãe ou minhas tias contassem histórias de suas respectivas infâncias, período em que moravam na roça. Meu imaginário era mobiliado por casos que tinham como cenário fogão a lenha, plantações de café e noites precariamente iluminadas por lamparinas a querosene, elementos estranhos (e maravilhosos) ao espaço urbano no qual cresci.
Da mesma maneira que ficava vidrado naquelas narrativas orais, não consegui me desvencilhar do longo fio narrativo esticado por Elena Greco. Em A amiga genial, primeiro livro da série, a sexagenária narradora se coloca a rememorar sua infância violenta na periferia de Nápoles. O relato é sempre permeado pela presença de sua melhor amiga (ou, talvez, pior inimiga), Lila Cerullo. Imagens de outro tempo, a violência física de maridos e pais violentos, de pessoas misteriosamente assassinadas, de abusos sexuais abafados pela vergonha familiar, tudo visto de uma nova perspectiva, pelos olhos da adulta que cava fundo sua memória em busca de objetos há muito enterrados.
Em um desses momentos, Greco rememora o dia em que Lila é arremessada pela janela, cai na calçada e quebra o braço. O autor da agressão é seu pai. Tudo bem. É só mais um dia comum de gritarias e espancamentos no bairro. A repetição de cenas como essa faz com que elas sejam descritas com a frieza e a objetividade da linguagem jornalística, situações manipuladas por uma competente narradora, que, baseada em testemunhos de outras personagens, alterna, quando necessário, os pontos de vista de sua câmera, para que pontas soltas não fiquem para trás.
Cheguei, nessa semana, ao quarto livro. Ainda estou sentado, ouvindo Lenu, e só me levantarei quando terminar seu relato. Como aqueles homens na fotografia mencionada por Scliar. Como nos tempos em que só queria que minha mãe contasse mais uma história.